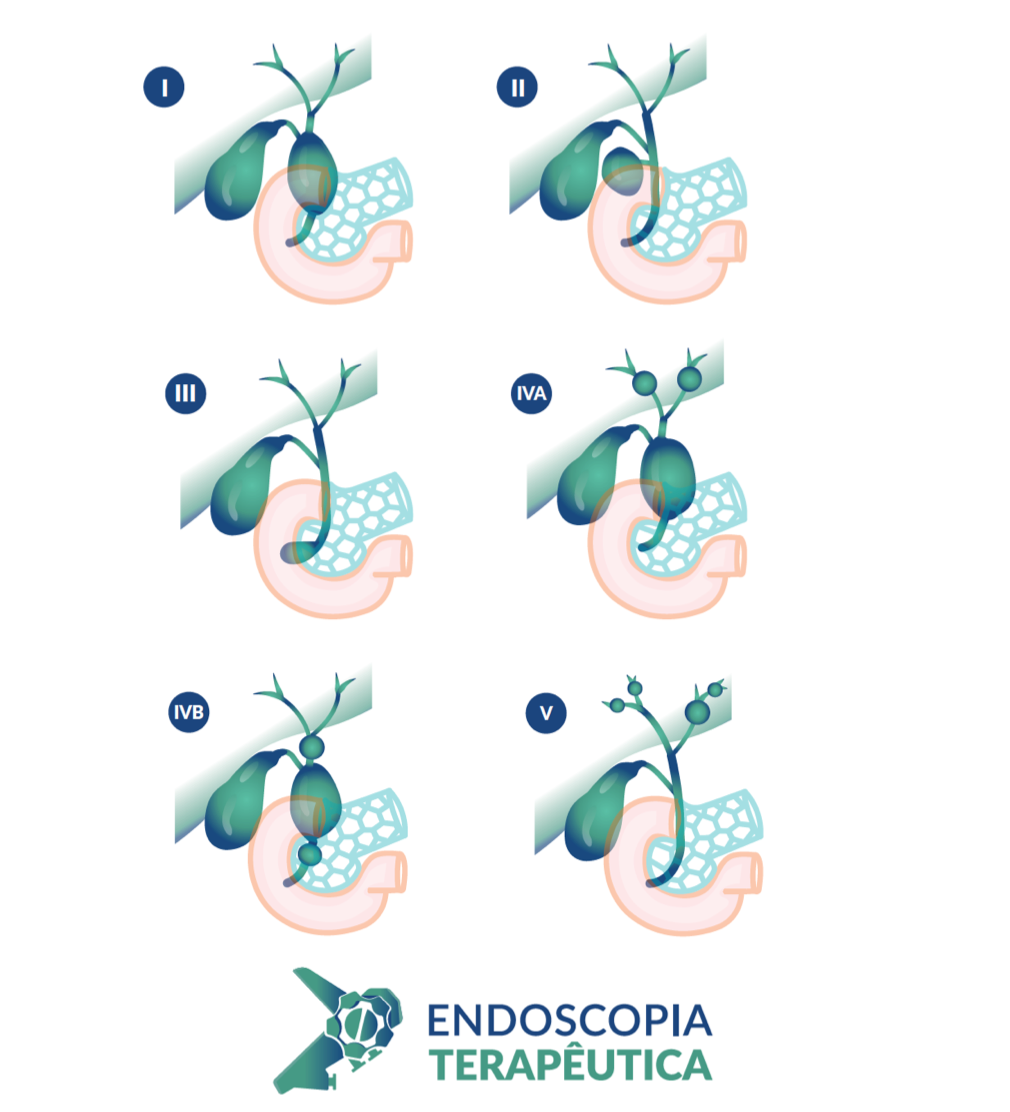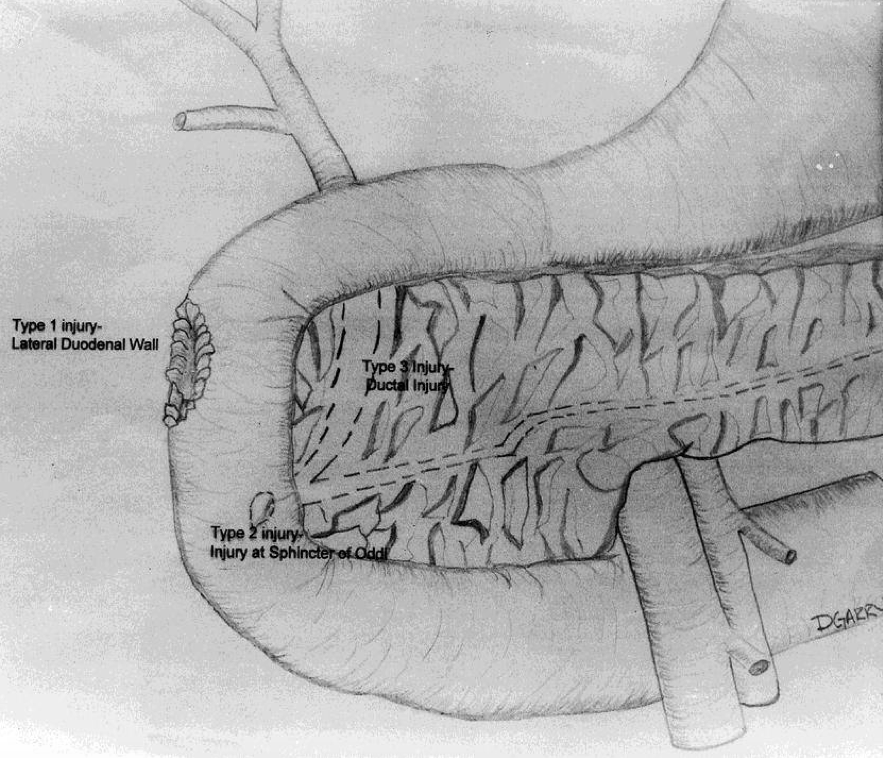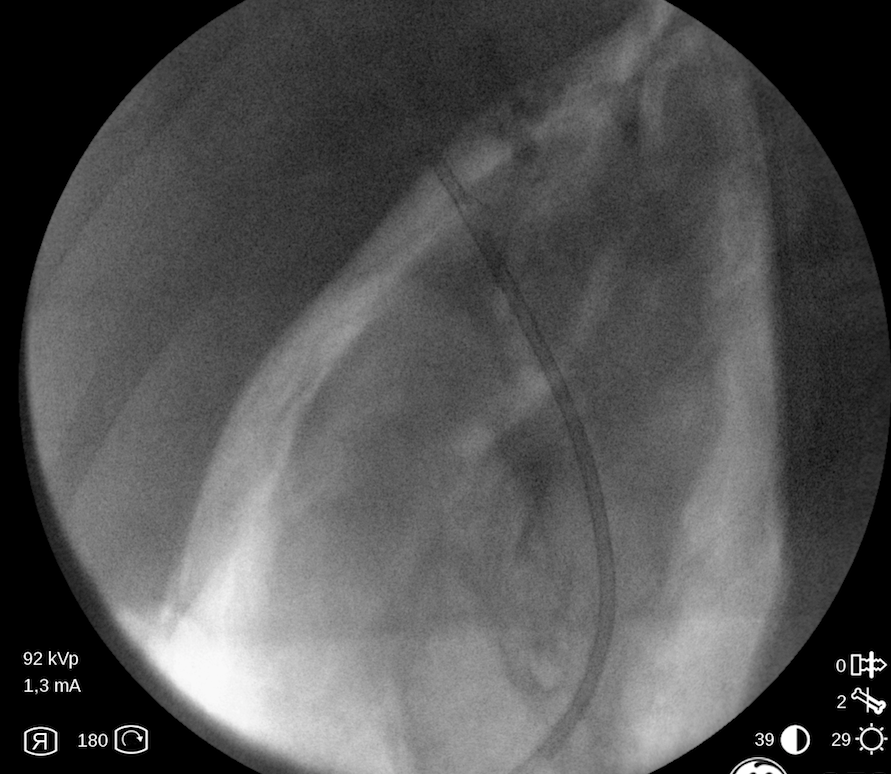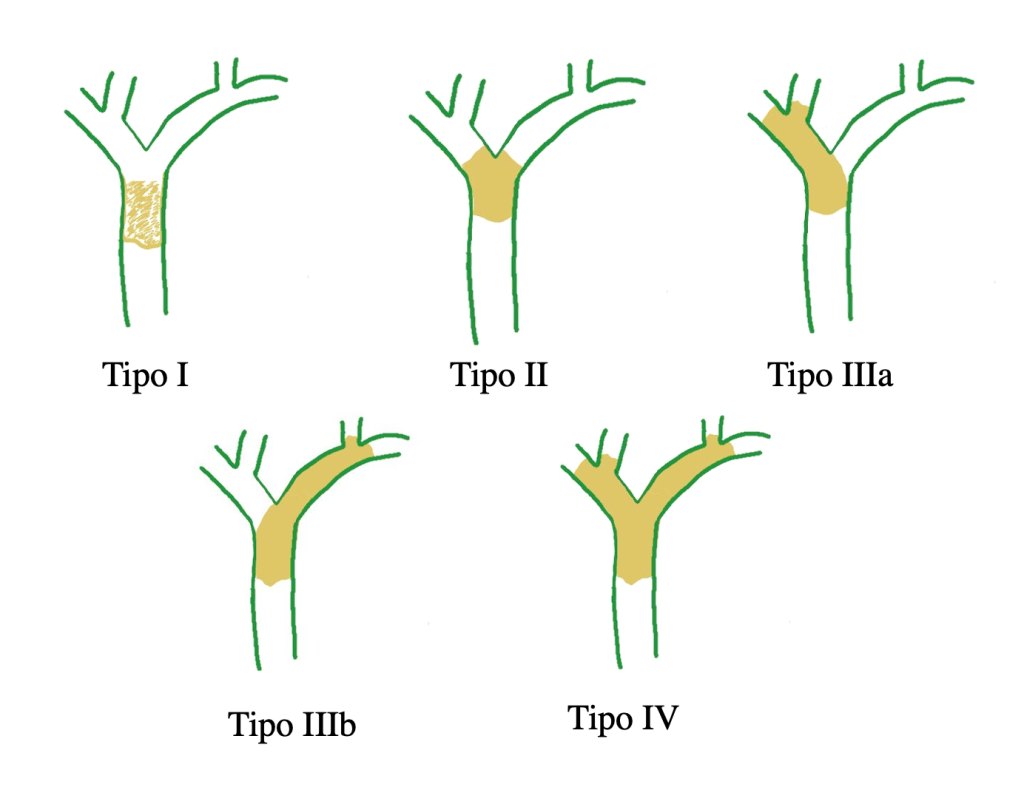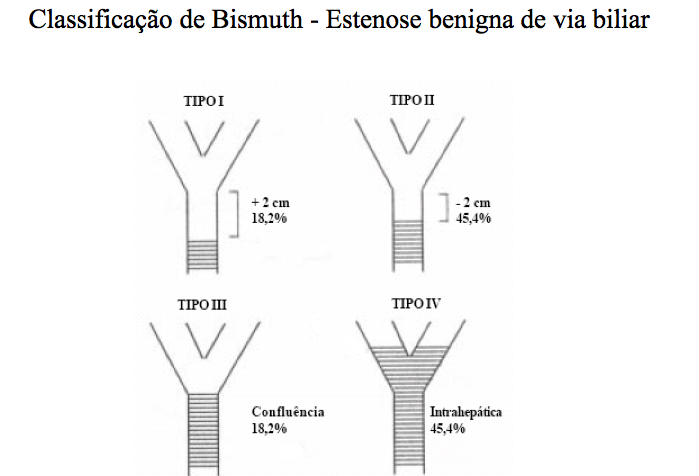Classificação de Atlanta Revisada – Coleções Fluidas Peripancreáticas
Objetivo
A Classificação de Atlanta (1992) foi conduzida para uniformizar critérios diagnósticos, definir fases da doença, classificar gravidade e padronizar a descrição das complicações locais e sistêmicas da pancreatite aguda. O objetivo principal foi reduzir ambiguidades e permitir uma comunicação clara entre clínicos, pesquisadores e radiologistas, além de favorecer comparabilidade entre estudos e definição prognóstica.
Em sua revisão realizada em 2012 é feita uma distinção importante entre coleções compostas somente de fluido versus aquelas que surgem da necrose e contêm um componente sólido (e que também podem conter quantidades variáveis de fluido).
Critérios
Diagnóstico de Pancreatite Aguda (2 de 3 critérios):
- Dor abdominal típica.
- Amilase/lipase >3x o limite superior normal.
- Achados típicos em imagem (TC, RM, US).
Fases da doença
- Fase precoce: até 1ª semana, dominada pela resposta inflamatória sistêmica (SIRS).
- Fase tardia: após 1ª semana, caracterizada por complicações locais e persistência de falência orgânica.
Tipos morfológicos
- Pancreatite intersticial edematosa: aumento difuso/local, realce homogêneo, geralmente autolimitada.
- Pancreatite necrosante: necrose pancreática e/ou peripancreática (estéril ou infectada).
Complicações locais (definições por TC)
- Coleção fluida aguda peripancreática (<4 semanas, sem parede definida).
- Pseudocisto: coleção encapsulada fluida, >4 semanas, sem componente sólido.
- Coleção necrótica aguda: coleção heterogênea (fluido + necrose), sem cápsula, <4 semanas.
- Walled-off necrosis (WON): coleção encapsulada de necrose pancreática/peripancreática, >4 semanas.
A coleção fluida peripancreática aguda (< 4 semanas) e o pseudocisto pancreático (crônica > 4 semanas) evoluem a partir da pancreatite aguda intersticial.
A coleção necrótica aguda (< 4 semanas) e a walled-off necrosis (crônica > 4 semanas) evoluem a partir da pancreatite aguda necrotizante.
Gravidade
-
- Leve: sem falência orgânica, sem complicações locais ou sistêmicas.
- Moderada: falência orgânica transitória (<48h) e/ou complicações locais/sistêmicas sem falência orgânica persistente.
- Grave: falência orgânica persistente (>48h), simples ou múltipla.
| Aguda (< 4 semanas) | Crônica (> 4 semanas) | |
| Pancreatite aguda intersticial | Coleção Fluida Pancreática Aguda– Líquido peripancreático sem necrose peripancreática associada | Pseudocisto Pancreático– Coleção encapsulada de fluido com uma parede inflamatória bem definida, geralmente fora do pâncreas, sem necrose |
| Pancreatite aguda necrotizante | Coleção necrótica aguda– Coleção contendo quantidades variáveis de líquido e necrose associadas à pancreatite necrosante; a necrose pode envolver o parênquima pancreático e/ou os tecidos peripancreáticos | Walled-off necrosis– Coleção madura e encapsulada de necrose pancreática e/ou peripancreática que desenvolveu uma parede inflamatória bem definida. |
Achados tomográficos:
| Aguda (< 4 semanas) | Crônica (> 4 semanas) | |
| Pancreatite aguda intersticial | Coleção Fluida Pancreática Aguda– Coleção homogênea com densidade fluida- Confinado por planos fasciais peripancreáticos normais- Sem parede definida (não encapsulada)
-Adjacente ao pâncreas (sem extensão intrapancreática) |
Pseudocisto Pancreático– Coleção homogênea com densidade fluida- Bem circunscrito, geralmente redondo ou oval- Nenhum componente não líquido
– Parede bem definida; ou seja, completamente encapsulado |
| Pancreatite aguda necrotizante | Coleção necrótica aguda– Densidade heterogênea e não líquida de graus variados em locais diferentes (alguns parecem homogêneos no início do curso)- Sem parede definida (não encapsulada)- Localização intrapancreática e/ou extrapancreática | Walled-off necrosis– Graus variáveis de loculação (alguns podem parecer homogêneos)- Parede bem definida, ou seja, completamente encapsulada- Localização intrapancreática e/ou extrapancreática |
Aplicação Clínica
- Fornece terminologia padronizada para descrição clínica e radiológica.
- Permite estratificação de risco e prognóstico logo na admissão.
- Esclarece que a gravidade depende da falência orgânica persistente, e não apenas da extensão de necrose.
- Amplamente adotada em guidelines internacionais e estudos multicêntricos.
Melhora a seleção de pacientes para manejo intensivo e estudos clínicos.
O tratamento das Coleções Fluidas Peripancreáticas é discutido no Guia Atualizado do Tratamento das Coleções Fluídas Peripancreáticas https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/papel-da-endoscopia-no-manejo-das-colecoes-fluidas-peripancreaticas/
Referência:
Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, Tsiotos GG, Vege SS; Acute Pancreatitis Classification Working Group. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102–111. doi:10.1136/gutjnl-2012-302779